OBS: Este texto foi originalmente publicado pelo XVI Encontro Nacional dos Geógrafos, cujo endereço eletrônico da publicação é este: www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=3882.
Mauricio de Freitas Scherer1,
Paulo Roberto Rodrigues Soares2
- Geógrafo, mestrando do Programa de pós-graduação em Geografia – UFRGS mauricioscherer@gmail.com
2. Prof. Doutor do Programa de pós-graduação em Geografia – UFRGS (orientador)
INTRODUÇÃO
Este trabalho faz parte de uma pesquisa desenvolvida na produção de dissertação do mestrado. Aqui será apresentado parte de um objetivo mais amplo de investigar a participação dos movimentos sociais na produção do espaço urbano, buscando sistematizar os resultados da disputa por moradia através do protagonismo dos movimentos sociais na cidade Santa Maria-RS. Nosso foco aqui é trabalhar Movimentos sociais e urbanização em Santa Maria-RS no sentido de apresentar resultados preliminares que indiquem os contornos teóricos possíveis para abordar ação dos movimentos sociais e urbanização.
Trabalharemos na perspectiva dos movimentos sociais que tem nas ocupações sua principal expressão de luta por mudança do Status quo da realidade social. A problemática que se apresenta enquanto proposta de trabalho diz respeito a indagação quanto a contribuição dos movimentos sociais para melhoria socioespacial das cidades, em especial o caso de Santa Maria-RS em sua expansão/consolidação urbana. Investigar os movimentos sociais urbanos permitirá subsídio para melhor compreender a dinâmica da cidade e a participação dos atores construtores deste espaço, com destaque para os movimentos sociais.
METODOLOGIA
A produção deste trabalho, até o momento, seguiu forte reflexão teórica-metodológica para conduzir a pesquisa. Usamos articulação de investigações anteriores sobre a questão urbana em Santa Maria-RS e movimentos sociais com as reflexões teórico-metodológicas de revisões bibliográficas. Desta maneira nossa prática de campo, observações, relatórios de pesquisa e dados de pesquisas anteriores se incluem como recursos metodológicos que usamos para este trabalho. A estratégia utilizada foi de relacionar a produção do espaço urbano no contexto do processo de urbanização e movimentos sociais urbanos que ocupam áreas para reivindicar moradia. Neste sentido, o uso empírico das ocupações servem para fazer análise pretendida, seguido de avaliação e contextualização da teoria sobre urbanização e produção/reprodução do espaço.
Esse exercício que articula empírico (ocupação) e avaliação/contextualização teórica de urbanização possibilitou esta breve síntese até agora alcançada, qual apresentamos aqui.
DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA
Ajustando as “escalas”
O estudo do espaço geográfico persegue muitos caminhos para entender sua formação e dinâmica. A Geografia é o ramo da ciência que a muito vem definindo os contornos aos quais seguir para bem interpretar este fenômeno humano, decorrente das relações sociais com o meio. A delimitação espaço urbano, aqui em questão, não significa uma compartimentação a um objeto diferente da lógica mais ampla do conhecimento geográfico, mas sim como já dissemos, uma delimitação um pouco mais restrita a determinado ângulo de observação, o espaço urbano. Detalhando um pouco mais, expomos nosso tema “Movimentos sociais na produção e reprodução do espaço urbano em Santa Maria -RS”. O interesse é pesquisar o espaço urbano, sua produção enquanto materialidade da sociedade, sua dinâmica e problemáticas nas relações dos movimentos sociais na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul. Além da produção do espaço urbano, também vamos buscar trabalhar a reprodução, demarcando o movimento que há no urbano enquanto processo em constante dinamismo na cidade. Em síntese dizemos, a pesquisa é voltada para a produção/reprodução do espaço urbano por meio dos movimentos sociais em Santa Maria.
Contextualizando realidades
Com uma realidade tipicamente urbana, a sociedade mundial vive dilemas que são na grande parte indissociáveis aos problemas da cidade, de uma maneira geral. Entendemos como sendo um forte problema em pesquisas nas ciências sociais e humanas buscar reflexão e consequente ação para enriquecer saídas aos problemas urbanos. Não raro encontramos posicionamentos genéricos próprios do senso comum que indicam o crescimento das cidades pela ótica da “desorganização” do espaço, figurando apenas algumas poucas cidades “organizadas”. Este tipo de pensamento segue provavelmente um olhar objetivo e ideologizado do espaço, que qualifica como sendo bem ou mal planejado. As cidades que a grosso modo, identificamos como bem “organizadas” e planejadas são poucas, mas ajudam a manter as críticas, que no cotidiano as pessoas remetem aos problemas ditos urbanos. Um exemplo claro deste aspecto que descrevemos, é a culpa da “desorganização” e falta de planejamento do espaço frente as áreas favelizadas e de ocupação irregular do solo urbano. A expressão conhecida é: “a cidade não teve planejamento...”; “em tal cidade é diferente, lá teve planejamento”. O que queremos chamar atenção é a construção de um ideário que sustenta um caráter aleatório da construção das cidades, o que denota parte do discurso corrente no interior da sociedade. Nestas palavras apontamos um problema a ser constantemente enfrentado por pesquisas sobre o urbano, vencer o senso comum.
É corrente para muitos críticos que a atuação dos movimentos sociais nas cidades, podem prejudicar possível organização da cidade, ou seja, os movimentos sociais como, por exemplo, os que ocupam áreas para fins de moradia criam “desorganização” do espaço das cidades. Desorganização espacial urbanística e jurídica tal formulação prega que movimentos sociais apenas “atrapalham” o bom andamento da cidade. Não seria interessante para o campo do conhecimento científico verificar até que ponto essa formulação se sustenta? A nosso ver a Geografia pode e deve discutir esse problema. A essa opinião podemos vincular a presença nem sempre evidente do que David Harvey denominou de teorias do status quo e contra-revolucionária (1980).
Nas últimas décadas, sobretudo pós anos 1980, no caso brasileiro os movimentos sociais ganharam destaque pela intensidade das contestações e reivindicações ao Estado. Antes deste período, fortes eram as denúncias à ditadura militar. Em decorrência do “enfraquecimento” do regime militar, “Novos personagens entram em cena” como a referência dada por Eder Sader (1988). As reflexões teóricas também avançam, buscando entender as ocorrências dos movimentos sociais e suas condições históricas e sociais de atuação. Verificamos uma presença bastante forte a partir da década de 1990 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST nas atuações e, em desdobramento grande preocupação acadêmica em estudar. Queremos dizer que os movimentos campesinos possuem grande destaque, enquanto os movimentos urbanos, embora tão presentes, não são evidenciados de igual maneira. Estudar movimentos sociais urbanos na participação da produção do espaço é sem dúvida ainda um campo vasto e promissor no âmbito das ciências.
Uma consideração a respeito da ideia de produção
A noção de produção que assumimos metodologicamente é a que sistematizamos por contribuição de Henri Lefebvre (1999; 2001). Este trabalha a possibilidade de pensar o espaço social sob pressuposto da produção. Toda sua teoria é basicamente projetada a partir dos conhecimentos oriundos do marxismo. Envolvendo dialeticamente aspectos do tecido urbano, práxis social, e conflito de classes reinsere o contexto explicativo para produção. Assim evidencia duplo aspecto do termo produção, podendo ser restrito, no sentido da produção das coisas mais palpáveis e mais amplo, no sentido das produções humanas que extrapolam os limites do “objetivo”. Importante aqui é apresentar essa concepção destacando como aporte teórico-metodológico.
Movimentos Sociais?
Trabalhamos na perspectiva dos movimentos sociais que tem nas ocupações sua principal expressão de luta por mudança do Status quo. São vários os casos, para citar os mais correntes apontamos como referencia as ocupações de grande repercussão dos movimentos campesinos tendo mais visibilidade nacional as ações do MST quando ocupam latifúndios, sedes de multinacionais, órgãos estatais e até mesmo o centro das grandes cidades; outro caso é dos movimentos que ocupam terra urbana para lutar por direito a moradia, sendo que muitas vezes as ocupações vão além das áreas a serem conquistadas, como por exemplo, ocupações do centro das cidades, prefeituras e demais instituições do Estado com objetivo de “coagir o poder público para o cumprimento das reivindicações” (SANTOS, R. 2008, p.10). Por fim, exemplificamos, movimento social que recentemente teve destaque no uso de ocupação como recurso para defesa de suas pautas foi o movimento de estudantes universitários que ocuparam diversas reitorias de universidades públicas em 2007, ano aniversário de 70 anos da UNE - União Nacional dos Estudantes, que defenderam, dentre outras, manutenção da educação pública, ampliação de vagas sem contingenciamento financeiro e mudança de política econômica do governo federal.
Através destes exemplos, situamos, que movimentos sociais nos referimos, partindo das práticas, denominadas pelos próprios movimentos: ocupações de Latifúndios, órgãos públicos estatais, Reitorias de universidades, terrenos públicos, prédios abandonados no centro de cidades... Podemos reconhecer nestes casos, semelhanças que ajudam a agrupar, em função de suas características, um recorte específico de movimentos sociais.
Bernardo Mançano Fernades traz importante reflexão que vai de encontro com o entendimento de movimentos sociais que tratamos aqui. Em seu artigo “Movimento Social como categoria Geográfica” (FERNANDES, 2000), apresenta a idéia de Movimento Sócio Territorial, destacando a atuação por meio de ocupações. Trabalha baseando-se nas experiências com movimentos sociais rurais, mais especificamente o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no entanto propõe que suas reflexões cabem a outros movimentos sociais. Neste artigo o autor procura aprofundar as reflexões a respeito dos processos de espacialização e territorialização da luta pela terra. Quanto a forma de organização dos grupos classifica dois tipos de movimentos, os isolados e os territorializados. Os movimentos isolados1 são ligados a base territorial determinada, suas lutas indicam mais resistência de abrangência local. Já os movimentos territorializados ou “socioterritoriais” estão organizados e atuam em diferentes lugares ao mesmo tempo, ação possibilitada por causa de sua forma de organização, que permite espacializar a luta para conquistar novas frações do território, multiplicando-se no processo de territorialização. Trata-se, portanto, de movimento sócioterritorial em virtude das articulações construídas em rede configurada na escala nacional. (2000, p.68)
Discussão sobre ocupações
O uso acadêmico de ocupação aparece em vários trabalhos que estudam o urbano e as diferenciações das formas de cada fração que compõem a cidade; apresentam o centro, o bairro, a vila, as áreas irregulares e condomínios fechados. Fala-se nos “usos e ocupação” do solo urbano, por exemplo, em estudos que envolvam ordenamento territorial. Em se tratando de áreas juridicamente irregulares em alguns estudos aparecem distinções na classificação; há quem trabalhe com invasões e quem trabalhe com ocupações urbanas ou muitas vezes uma falta de diferenciação que não reflete sobre possíveis singularidades de cada termo, admitindo apenas, o caráter juridicamente irregular da forma urbana, ou seja, atribuindo sentido de sinônimo para ocupação e invasão. Nessa discussão reconhecemos que há diferenças definidoras de cada termo em se tratando de espacialidades. Numa rápida definição Arlete Moyses Rodrigues (RODRIGUES, A. 1988) distingue favelização de ocupação, o que nos permite considerar especificidade nas formações espaciais, onde a primeira seria decorrente de um processo continuo de concentração de famílias sem moradia em áreas precárias ambientalmente, algo fruto da espontaneidade de cada família, o que condicionaria certa “falta” de ordenamento urbanístico, ao contrário da segunda que teria uma organização prévia com preocupação mínima de arranjo espacial, escolha2 de área com possibilidades mínimas de ajustes de moradia para coletividade participante do ato.
Além fato organizativo a ocupação nesse sentido seria uma ação para reivindicação de moradia, uma ação política organizada, além das características espaciais possivelmente diferenciadas. O sentido de ocupação estaria condicionado por ação política organizada.
Outra possibilidade é considerar produção juridicamente irregular do espaço urbano como sendo ocupação espontânea e ocupação organizada, o importante seria a maneira como ocorreu a ocupação, o fato gerador da espacialidade. Neste caso valeria atribuir como sinônimo invasão, sendo espontânea e invasão organizada já que o destaque seria a existência ou não de organização coletiva para usar o espaço, admitindo, que de qualquer forma (espontânea individual/ organizada coletivamente) há irregularidade jurídica. Mas, apoderar-se de forma organizada e coletivamente de espaço para morar, com contestação política pela falta de alternativas, em um contexto onde a produção do espaço é social e os benefícios são privados e para poucos, ocupar significa o mesmo que invadir? Nossa interpretação aponta validade para a ideia de apropriação refletida por Henri Lefebvre, ideia que contrapõe a realidade do domínio projetado e praticado pelo capitalismo.
RESULTADOS: MOVIMENTOS SOCIAIS NA PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM SANTA MARIA -RS
Santa Maria no Rio Grande do Sul é uma cidade que tem destaque na história recente na ação de movimentos sociais, sobretudo daqueles que a principal pauta é busca pelo direito a moradia. Um trabalho que ilustra este aspecto da cidade foi produzido por Alessandra Pinheiro (2002), que apresenta um panorama geral das ocupações ao longo das últimas décadas (1970 – 2000). Neste trabalho encontramos uma caracterização dos diversos tipos de ocupações irregulares, mostrando a produção do urbano fora dos padrões urbanísticos legais juridicamente.
Nas décadas de 1960 e 1970 ocorreram 11 ocupações em áreas urbanas de forma irregular em Santa Maria. Na década de 1980 foram 3 e na década seguinte, mais uma vez se destacam o grande número de ocupações, sendo 11 durante a década, com destaque para a Nova Santa Marta, a com maior expressão espacial (Pinheiro, 2002). Nos chama atenção as ocupações organizadas por movimentos sociais, estas ganham maiores expressões espaciais e visibilidade social decorrente da politização do fato. As duas maiores ocupações urbanas de Santa Maria foram decorrentes de ação dos movimentos sociais. A maior delas, Nova Santa Marta já estudamos sua origem, história e realidade sócio-espacial (Scherer, M. 2005; 2008).
O “mapa” da cidade foi nitidamente influenciado pelas ocupações que ocorreram.
Contornos teóricos possíveis pela ação dos movimentos sociais estudados até o momento
Territorialidade e apropriação são palavras que nos remetem a uma determinada ação. Para a discussão de produção e reprodução do urbano por meio dos movimentos sociais torna-se proveitoso, no sentido em que potencialmente qualifica o entendimento do sentido teórico da ação de tais movimentos por meio de ocupações.
Especificamente no caso de abordagem espacial de analise de territórios, se faz necessário confrontar, em se tratando de movimentos sociais e “ocupações” o posicionamento de cada exercício de poder, as relações que permitem a territorialização e espacialização de cada grupo envolvido. Reconhecemos as relações de conflitualidade social na atuação dos movimentos sociais territorializados. Quando movimentos do campo de da cidade realizam ocupações contestam o status quo promovem suas pautas, mas em conflitualidade com outros grupos de interesse, “a ocupação é um processo sócioespacial, é uma ação coletiva, é um investimento sócio político dos trabalhadores na construção da consciência da resistência no processo de exclusão”(FERNANDES, 2000, p. 73).
Partindo da ideia de que as ocupações são uma resistência no processo de exclusão social capitalista e falta de oportunidades políticas, podemos identificar na relação dos significados de ocupação versus invasão um conteúdo de práticas das territorialidades de grupos antagônicos. Ora, que são as práticas dos movimentos sociais senão uma busca de resignificação do espaço através de suas territorializações? A orientação de cada movimento (exemplo, o MST como rural e o MNLM – Movimento Nacional de Luta pela Moradia como urbano) aceita a discussão pública a respeito do significado de ocupação, pois admitem querer problematizar suas pautas, mostrar a abrangência do “fato ocupação” e mais do que isso, indicar que não são invasores, pois buscam condições mais dignas, ou seja, quererem se “apoderar” de melhores condições em suas vidas. Regina Bega dos Santos ajuda a esclarecer a diferença denotando que,
não é simplesmente semântica. No uso do termo invasão estão implícitas a ilegalidade e a violência da ação: invadir a privacidade ou a propriedade de outrem. Trata-se de uma ação ilegítima. O termo ocupação relaciona-se a conquista de um direito: ocupa-se o que é de direito. Aquilo que em algum momento, do passado ou do presente foi usurpado de um grupo ou classe social, mesmo que não tenha sido “diretamente” usurpado. Mas a desigualdade social, que também significa desigualdade de oportunidades, a exploração e a espoliação impediram que esses cidadãos mais pobres tivessem acesso a propriedade da terra ou a moradia. (Santos, R. 2008, p. 132)
Nos parece que o uso dado aos termos ocupação e invasão dependem do grupo que os expressam como representação. Esse fato nos remete a identificar distintas territorialidades que estão em conflito.
Os movimentos sociais ao qual nos referimos são territorializados. Identificamos através de suas práticas um interesse de ampliar seus horizontes em movimento de constante extensão de suas “fronteiras”. Essa idéia nos remete as clássicas proposições de Sack (1986), quando que vê nas estratégias de domínio do espaço uma constante busca por manter a extensão territorial. Fernandes descreve a construção de espaços de socialização política no caso do MST, evidenciando uma forma de organização social. Trata-se de um processo de formação política voltada para a superação de suas realidades, uma continuada preparação para a “ocupação”. Quando da ocupação, é dessa forma que os trabalhadores vem a público e dimensionam o espaço de socialização política, intervindo na realidade, construindo espaço de resistência e luta. Esse dimensionar da luta ocorre através de estratégia deste movimento social, pois constrói uma intervenção para além do lugar concreto da ação. Aqui encontramos o uso de estratégia que extrapola a dimensão do “imediato ocupado”, falo aqui da construção do espaço comunicativo em sociedade.
Uma idéia de Haesbaert apresentada por Ueda diz que “hoje o território é mais do que nunca movimentos, ritmos, fluxos e redes. Não mais se trata de um movimento qualquer ou um movimento de feições meramente funcionais, ele é também um movimento dotado de significados, de expressividade, isto é, que tem um determinado significado para quem constrói e/ou para quem usufrui dele. (Ueda, 2008. p.80)
Como já dito anteriormente, o sentido de ocupação para os movimentos sociais é amplo, eles ocupam o espaço para morar, a discussão política social, as manchetes de jornais, os espaços nos telejornais, os debates acalorados nos plenários das instancias do Estado dentre outras inúmeras maneiras de ocupar. Essa dimensão do ocupar não permite admitir, para uma análise criteriosa, um invadir para morar, invadir discussão política social, invadir as manchetes de jornais e por aí segue... Queremos com essa abordagem concordar com citação apontada anteriormente que “hoje o território é mais do que nunca movimentos, ritmos, fluxos e redes...”; o movimento social estruturado em rede configura através de seus ritmos de atuação um território, o território da luta dos movimentos sociais; “...ele é também um movimento dotado de significados, de expressividade, isto é, que tem um determinado significado para quem constrói e/ou para quem usufrui dele. (Ueda, 2008. p.80)
Ser portador de “significados” e de “expressividade” o território dos movimentos sociais tem constantes fluxos e refluxos que condicionam uma maior ou menor delimitação de sua extensão. As ocupações permitem, construir possibilidades de fluxos que venham a permitir, na disputa social, avanço de suas pautas por meio de sua territorialidade. Neste caso, está estabelecido uma relação estratégica do “ator social” movimentos sociais.
Até o momento fica nossa reflexão no seguinte aspecto: Ocupar comporta sentidos, que buscam nos significados interno de cada movimento no espaço/território, usar estes significados com projeção externa (do local ocupado) para cada vez mais se ampliar e apoderar-se do espaço com ressignificação condicionada pela territorialidade. O sentido do significado interno ao qual falamos, acreditamos ser a produção de representações do espaço.
CONCLUSÃO
Apresentamos até aqui ideias trabalhadas no percurso do grande objetivo de dissertação do mestrado. São preliminares mas que já adiantam conclusões avançadas da pesquisa. É possível vincular a construção do “desenho” da forma urbana de Santa Maria, a estrutura espacial, à presença dos movimentos sociais e suas ações de ocupações na luta por moradia. Reconhecemos assim, a não homogeneidade do processo nem tão pouco linearidade em sua evolução. A facilidade da simples enumeração de datas para o surgimento e crescimento das cidades e suas formas não garante o entendimento da urbanização e desenvolvimento espacial, por este motivo acreditamos ser as contradições históricas suporte para este objetivo. A sucessão dialética das ocasiões históricas nos permite encontrar os nexos explicativos. Curiosamente é na suposta “desorganização” da cidade que encontramos elementos para organizar conhecimentos sobre a cidade. Concluímos que as contradições encontradas no entorno das práticas de ocupações, protagonizadas por movimentos sociais, são suficientes para reconhecer uma urbanização real e não harmônica. Essa urbanização nem sempre tão evidente na sociedade. No estágio em que se encontra, nossa pesquisa revela novos conhecimentos importantes acerca de ação dos movimentos sociais e urbanização por meio de ocupação.
Na continuidade de novos trabalhos certamente teremos desdobramentos na relação ocupação e apropriação do espaço, revelando novo contexto da ação dos movimentos sociais na produção e reprodução do espaço urbano.
Na pesquisa vamos continuar seguindo uma possibilidade bastante atual para um novo desenvolvimento sócio-espacial, que considere além da produção coletiva também uma apropriação coletiva do espaço produzido. O capital reivindica sua reprodução, essa é sua busca constante. Os movimentos sociais organizados territorialmente projetam constantemente uma apropriação compartilhada do espaço, uma nova situação de relação social que contemple suas demandas, democratizando realmente a cidade. O limite para isso são os interesses de quem detém o domínio produtivo deste espaço.
BIBLIOGRAFIA
ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS. Revista Terra Livre, São Paulo, n. 15 (Geografia, política e cidadania), jan.-dez. 2000.
BAENINGER, R. Redistribuição Espacial da população e urbanização: mudanças e tendências recentes. In: GONZALVEZ, M.F.; C. A.; GALVÃO A.C.F (orgs.). Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Unesp: ANPUR, 2003, P.271-288.
BORJA, J. Estado y ciudad: descentralización política y participación. Barcelona: PPU, 1988.
CAPEL, Horacio. El debate sobre la construcción de la ciudad y el llamado "Modelo Barcelona". Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de febrero de 2007, vol. XI, núm. 233. [ISSN: 1138-9788]. Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-233.htm>. Acesso em: 10 jan. 2010.
CASTRO, I. E; GOMES, P. C. da C. (orgs.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.
FERNADES, B. M. Movimento social como categoria geográfica. Revista Terra Livre, São Paulo: n. 15, p. 59-85, 2000.
GOHN, M. da G. (org). Movimentos Sociais no inicio do século XXI: Antigos e novos atores sociais. Petrópolis: Editora Vozes, 2004.
HAESBAERT, Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade. Heidrich, et all (org.) A Emergência da Multiterritorialidade: A Ressignificação da relação do humano com o espaço. Porto Alegre: Ed. Ulbra & UFRGS, 2008.
HARVEY, D. A justiça social e a cidade. São Paulo: Hucitec, 1980.
QUEVEDO, J. (org); IOKOI, Z. M. (org). Movimentos Sociais na América Latina. Santa Maria: MILA, CCSH, Universidade Federal de Santa Maria, 2007.
LEFEBVRE, H. A “práxis”: a relação social como processo. In: FORACCHI, M. M. e MARTINS, J. de S. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S. A. 1978.
LEFEBVRE, H. Estrutura social: a reprodução das relações sociais. In: FORACCHI, M. M. e MARTINS, J. de S. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S. A. 1978.
LEFEBVRE, H. A revolução urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
LEFEBVRE, H. A cidade do Capital. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2001.
LIMONAD, E. Urbanização e organização do espaço na era dos fluxos. In: Oliveira, Márcio Piñon de; Haesbaert, Rogério; Moreira, Rui. Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. Rio de Janeiro: DP&A, 2006, p. 147-169.
OSLENDER, U. Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una "espacialidad de resistencia". Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 115, 1 de junio de 2002. [ISSN: 1138-9788]. Disponível em: . Acesso em: 12 dez. 2009.
PINHEIRO, A. do C. Levantamento e análise do processo de ocupação irregular do solo urbano nos últimos 30 anos (1970-2000) em Santa Maria – RS. 2002. 112f. Monografia (Graduação em Geografia - Licenciatura) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2002.
RODRIGUES, A, M. Moradia nas Cidades Brasileiras: Habitação e especulação, o direito a moradia, os movimentos populares. São Paulo: Contexto, 1988.
SACK, Robert David. Human territoriality. Cambridge: Cambridge Univerty. Press, 1986.
SADER, E. Quando novos personagens entram em cena: experiencias, falas e lutas dos trabalhadores da grande São Paulo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 329p.
SANTOS, M. et all. Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 411 p. (Espaço, território e paisagem).
SANTOS, R. B. dos. Movimentos Sociais Urbanos. São Paulo: Editora UNESP, 2008.
SCHERER, M. de F. & CARDOSO, E. S. Nova Santa Marta: Uma evolução histórica. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Departamento de Geociências, Grupo de Pesquisa em Educação e Território, 2005.
SINGER, P. Economia política da urbanização. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995.
SOUZA, M. L de. O território: sobre espaço e o poder, autonomia e desenvolvimento. In: Castro, I. E. de. et all. (orgs): Geografia conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1995.
UEDA, V. O Território organizado pelas redes. In: Heidrich, et all (org.) A Emergencia da Multiterritorialidade: A Ressignificação da relação do humano com o espaço. Porto Alegre: Ed. Ulbra & UFRGS, 2008.
1 Neste caso incluímos observância de que os “isolados” seguramente também são territorializados, se territorializam também, mas não no nível de escala território nacional/internacional interligado organicamente em rede.
2Adverte-se ao fato de ocorrem ocupações com objetivo unicamente político, onde o ato de ocupar significa uma demarcação das posições políticas no sentido de pressão popular para determinada reivindicação.
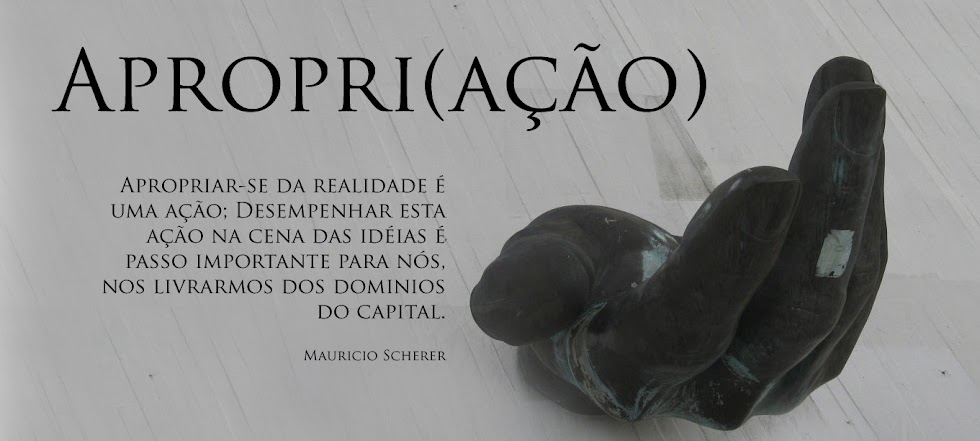
Nenhum comentário:
Postar um comentário